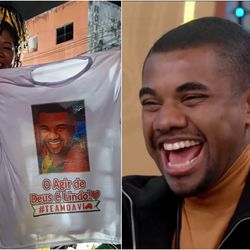Receba por email.
Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Historiadora, que participa nesta terça de debate no TCA, fala sobre Brasil, feminismo, lugar de fala e literatura

Fernanda Santana
Publicado em 1 de outubro de 2019 às 06:44
- Atualizado há um ano

A conclusão de Lilia Schwarcz, 61, é sempre uma: “Não teremos democracia enquanto praticarmos racismo nos moldes que praticamos hoje”. A historiadora é uma estudiosa das histórias brasileiras e da temática racial. Há quatro anos, por exemplo, traçou, junto a Heloisa Starling, um retrato do país, da colonização à contemporaneidade no livro "Brasil, uma biografia".
Às 20h30 desta terça-feira (1º), sobe ao palco do Teatro Castro Alves com a filósofa Djamila Ribeiro na última edição da tempora do Fronteiras do Pensamento. O tema será justamente o racismo e as perspectivas feministas negras.
No saguão de um hotel na capital baiana, a historiadora conversou, um dia antes do debate, sobre como o racismo é um marcador histórico do Brasil. E como é preciso adotar, cada um à sua maneira, um papel. “O lugar de fala existe. Esse é o meu lugar. Cabe a nós, que temos o privilégio de não precisar lutar para estar nesses espaços que estamos, considerar e deixar claro que esses são espaços de poder, de privilégios”, opina.A ideia é que se construa um processo de afetação. "Acho que é a hora de as pessoas estarem afetadas. Acho que o afeto produz conhecimento", continua. Em maio, lançou, pela Companhia das Letras, "Sobre o autoritarismo brasileiro", uma análise sobre as raízes da opressão no Brasil.
Nos últimos anos, Lilia têm reinventado seus próprios conceitos. O feminismo, por exemplo, ainda tem muito a aprender com a diversidade, ela acredita. A historiadora está certa de que os lugares de partida são muitos e devem ser muitas, portanto, as narrativas. “Acho que hoje, quando falamos de feminismo, estamos falando de um feminismo que melhorou muito a partir das críticas do feminismo negro. Ou seja, feministas para quem, quando, como?”, explica.
Quando tinha 14 anos, Lilia visitou a Bahia pela primeira vez. Ficou deslumbrada com a cultura local. Retornou ao estado outras tantas oportunidades. Dessa vez, tem certeza de que falará a um novo público. “É uma Bahia que mudou muito e mudou o Brasil, teve um papel fundamental”, acredita ela. Um dia antes de reencontrar essa nova Bahia, analisou o feminismo, o racismo sob a perspectiva histórica, os avanços e retrocessos na busca por uma narrativa e o papel de cada um na busca pela democracia.
No encontro, também resumiu quais histórias ainda pretender contar. Não são poucas. Mas algumas já foram adiantadas nesta entrevista. "Tenho muito interesse em estudar as nossas histórias, no plural", adianta. Confira:
Quero começar com o encontro de hoje, na última edição da temporada 2019 do Fronteiras do Pensamento. Quem ocupará cada papel na discussão sobre o racismo e as perspectivas feministas negras?
Eu sou amiga da Djamila há muito tempo, tenho muita admiração pelo trabalho dela. Como vamos falar de racismo, eu trarei a perspectiva histórica e a Djamila trará mais uma perspectiva contemporânea. O que vou fazer é mostrar o legado da escravidão. Recebemos quase a metade de todos africanos que saíram do continente, também fomos o último país a abolir a escravatura. Também vamos falar sobre como temos recriado o racismo em grandes bases. Ou seja, vou falar sobre racismo estrutural, o racismo institucional, e falar sobre minha perspectiva como intelectual branca, mulher, sobre ter uma atitude antirracista, atuar contra o racismo.
Será um momento para discutir o racismo numa era de polarização, em que há contestação de alguns conceitos. Como se pode discutir racismo de maneira pedagógica? Bom, eu tenho tentado fazer muito isso no meu Instagram (risos). Desde 2018, no processo eleitoral, decidi entrar nas redes. Eu era, e ainda sou, uma completa ignorante. Não sabia nem que meus comentários poderiam ser lidos publicamente. Mas eu acho – e é minha posição – que os intelectuais precisam vir a público, se transformem em intelectuais públicos nesse contexto. Pense que é possível que a gente discuta exatamente com essas pessoas que enxergam a discussão como meramente idealista, sem chão, a conversa que eles chamam de mimimi.
Primeiro, acho que a gente tem que discutir com muitos dados. É preciso cruzar dados, fornecer dados. Por exemplo, como as mulheres negras são as que menos recorrem a exames preventivos na saúde pública, não porque não querem, mas porque não têm condições. Pensar em como nós temos um aparthaide também. Basta entramos num shopping center, num hotel como esse, num ambiente corporativo, para verificar. Temos que pedir que as pessoas se sensibilizem. Há uma antropóloga que trabalha com a ideia de “estar afetado”. Acho que é a hora de as pessoas estarem afetadas. Acho que o afeto produz conhecimento.
É hora das pessoas perceberem porque os meninos negros, sobretudo, vão para o fundo da sala. Eu penso que é hora de providenciarmos exemplos práticos para a população entender. Dado sobre estupro, mortalidade. Democracia se faz com a diferença. É dar inteligibilidade a essa diferença.
Nesse percurso, você acha que houve mais avanços ou retrocessos? Eu penso que um pouco de tudo. A gente avançou, mas regrediu também. Uma tônica forte será falar um pouco nesse momento, nesse contexto. Eu sei que estamos vivendo uma batalha de narrativa e que a história está no centro dessa batalha. Minha posição é que na nova república, sobretudo o movimento negro logrou conseguir alguns avanços, desde a lei que impõe a cultura afro-brasileira nas escolas até a criação de um instituto próprio, à discussão da lei de costas. Agora, em 2022, terá uma reavaliação.
Acho que foram vários os avanços. Por outro lado, vivemos um momento de claro recesso democrático. Entre os alvos de ataques estão as minorias sociais. Acho que nós estamos hoje vivendo esse problema. A constituição de 1988 não lidou com o tema da reparação. Nós temos uma questão com políticas de reparação que não são apenas de caráter econômico, mas que visam a combater esse racismo estrutural. O racismo estrutural, como diz o nome, está na nossa estrutura. Está na educação, está na saúde...
E como ocorre sua aproximação com o tema do racismo?
A questão da minha proximidade com esse tema vem desde minha graduação. Eu tive uma bolsa e iniciação científica que já era sobre a escravidão, em Ilha Bela. Esse tema aparece no meu mestrado, doutorado. Mesmo nos livros que isso não necessariamente aparece, chamo atenção como a escravidão é a grande contradição da monarquia brasileira. Quando estudei um pintor francês do século 19 Nicolai Antonie, destaquei o problema que ele tinha com a escravidão, e como a escravidão aparecia em todos quadros. Quando terminei Brasil, uma biografia, vimos que uma das veias mestre, uma das estruturas básicas dessa questão, é a escravidão.
Isso porque eu acho que não teremos democracia enquanto praticarmos racismo nos moldes que praticamos hoje. Essa não será um país republicano tampouco se não tomarmos consciência dessa questão. Esse problema é urgente da nossa urgente, que temos a mania de negar. Esse é um tema, como historiadora do Brasil, que penso ser inadiável, incontornável.
Você falou sobre seu Instagram e sobre o percurso de aproximação com o tema. Bom, as redes sociais são ambientes de disputa, inclusives entre mulheres. Qual é o limite entre a crítica e a troca recíproca de conhecimento? Eu penso que é hora de dialogar. Sobretudo, porque democracia é lidar com a diferença, com o adversário. Ou seja, lidar com alguém que não pensa como eu. Esse é o truque: como farei para dialogar como o meu não igual? Agora, o segredo é não transformar o adversário em inimigo. Há uma fronteira entre o adversário, alguém que pensa diferente de mim, e o inimigo, aquele que eu quero desconhecer. Acho que o adversário fortalece a temperatura da democracia. Nós teremos uma democracia melhor se tivermos esse debate. Acho que o limite é esse.
Como mulher branca, que fala sobre racismo, você já foi tratada como "inimiga"? Já, mas eu acho que isso faz parte. Entrando no Instagram, me deparei com coisas que nunca tinha visto na Academia. Eu penso que a Academia é um ambiente muito protegido. Nós falamos a mesma língua, no máximo discordamos em alguns conceitos. Acho que o debate ganha outro calibre. No Instagram, você recebe o pessoa que é favorável ao governo, te chama de esquerdista. Também já tive vários questionamos: como você é uma branca falando de temática social? Eu acho legítimo, mas também mostro minha coerência, há quanto tempo trabalho no tema. Sobretudo essa ideia de Ângela Davis, da própria Djamila, que se o racismo foi criado pelos brancos, os brancos também precisam lidar com ele. A questão não é culpa apenas, a gente tem que ter responsabilidade.
A própria Djamila Ribeiro, com quem você dividirá o palco, fala sobre o tema "lugar de fala". Você acredita em "lugar de fala"? Claro. Eu sou uma intelectual branca, mulher, que falo desse lugar, que tive vários privilégios, fiz boas escolas, falo línguas, pude ir a boas universidades. Mas acho que, enfim, esse é o meu lugar de fala. Mas há uma incompreensão do termo. A própria Djamila fala sobre isso, quando o lugar de fala se torna um impedimento ao diálogo. O lugar de fala deve propiciar justamente a inclusão entre diferentes, de várias falas. Você tem muitas falas e você entende o lugar da sua fala. Esse é o meu lugar.
Então não seria o impedimento de falar, mas sim a oportunidade de ouvir? Perfeito, muito bom. O maior impedimento não é o da fala, mas sim da possibilidade de escuta. Ou seja, o que o lugar de fala trouxe para nós? A ideia de pluralidade. E o feminismo negro teve muito a contribuir nesse sentido, de marcar de onde se fala, para quem se fala, como se fala. Cabe a nós, que temos o privilégio de não precisar lutar para estar nesses espaços que estamos, considerar e deixar claro que esses são espaços de poder, de privilégios.
Em toda essa história, e a partir do seu estudo, o que mais te assusta em relação ao racismo? O que mais me assusta, em primeiro lugar, é essa atitude do governo e aliados. Eles têm praticado um claro revisionismo histórico, a ponto de questionar que o Brasil tenha recebido tantos escravos ou viva num sistema violento. Um sistema que supõe a posse de uma pessoa sobre outro só pode ser violento. E o nosso sistema foi violentíssimo. A média de vida de um escravizado no campo, no trabalho, era de 21 anos no Brasil e nos EUA de 31. Nenhuma dessas médias é boa, ao meu ver, mas nós tivemos uma escravidão muito forte.
Me assusta muito esse discurso do revisionismo e um dos elementos fundamentais é a escravidão. Nós estamos vivendo uma batalha de narrativas, por isso comecei dizendo isso. Também me assusta que boa parte da população não queira ver que o que ocorre hoje é um genocídio da população jovem, negra, masculina. Isso tem me assustado demais, o pouco caso das autoridades. Me assusta que tenhamos números de guerra civil e não tomemos consciência da gravidade.
Nesse contexto, de disputas, avanços e retrocessos, onde está o feminismo? De que feminismo estamos falando?
Até 1900, consideramos que as histórias são histórias das mulheres, femininas. Até porque pegamos um momento que o movimento ds sufragistas vai ser iniciado. Eu tenho uma preocupação muito grande, como historiadora, de não cometer anacronismos, ou seja, de cuidar da temporalidade dos conceitos. Até 1900, temos que falar da história das mulheres, do feminino. As histórias feministas ganham corpo, são mais evidentes, no final do século XX, início do século XXI. De que histórias estamos falando? Bom, é preciso tomar cuidado, porque são muitas histórias. E a última onda, com toda razão, denunciou que as histórias feministas eram muito europeias, que as demandas eram europeias brancas. E que eram demandas muito classistas, partiam de uma forma de inserção de classes, e eram heteronormativas, que não falavam de outras identidades de gênero.
Acho que hoje, quando falamos de feminismo, estamos falando de um feminismo que melhorou muito a partir das críticas do feminismo negro. Ou seja, feministas para quem, quando, como?
E de que lugares partem as diferentes mulheres? A mulher branca e a negra, por exemplo?
A gente tem que tomar muito cuidado para não estereotipar. "Se o mundo fosse assim, isso ou aquilo"... prefiro pensar que o mundo é assim e aquilo. Nós temos também mulheres brancas pobres. Da onde elas partem? De muitos lugares, se não, penso que a sociedade constrói marcadores da diferença e esses marcadores funcionam de maneira intersecionada. Quais são os marcadores? Raça, gênero, sexo, geração, região.
No Brasil, um marcador muito forte é a religião. A questão racial é um marcado que vale a pena interseccionamos com outros marcadores. Isso para que a gente não fale de uma realidade chapada que não é a que eu enxergo.E essa discussão já chegou às classes mais pobres? Acho que vai chegando. Figuras como a Djamila tem falado para uma comunidade maior, mais ampla, eu vejo atitudes assim. Você pode pensar até na quantidade de divórcios. Antes, os matriarcados eram de mães condenadas ao casamento. Agora, pesquisas mostram que as mães não estão condenadas ao casamento. Elas podem ser livres.
Diante de tantas histórias, qual você ainda quer contar? Bom, as histórias afro-brasileiras me interessam muito e precisam muito ser recontadas. Eu, na USP, dei por muito tempo o curso História do Pensamento Afro-Brasileiro. Acho que essas histórias, nas ciências sociais, na historiografia, mas também nas artes. Acho que as histórias feministas e femininas precisam ser contadas. No âmbito da arte, me impressiona muito como sempre pedimos obras de fora e temos muitos problemas nas barganhas com grandes museus. As obras de mulheres sempre conseguimos e as pessoas às vezes falavam: você não quer duas? Porque, com grande frequência, as obras das mulheres estavam não expostas, estavam no acervo. Eu sempre penso assim: se acontece uma vez, eu falo que coincidência. Se acontece duas, muita coincidência. Se acontece três, aí tem coisa.
Por que, durante muito tempo e com grande facilidade, falamos que os homens faziam arte e as mulheres artesanato? Por que dizíamos que os homens eram artistas com A maiúsculo e as mulheres faziam isso apenas no âmbito doméstico. No nível das artes, tivemos uma involução, as mulheres desapareceram. Me interesse muito pensar nessas histórias. Também me interessa pensar nas histórias dos indígenas. Eu penso que os indígenas são tratados como se “para desaparecer”.
Só agora começamos a trata-los como agentes, pessoas que falam de suas próprias história, sobre seu destino. De uma maneira geral, a pergunta é ótima porque tenho muito interesse em estudar as nossas histórias, no plural. Acho que 2022 vem aí e estou muito interessada em saber que história vamos contar em 2022. A nossa é uma história muito europeia, muito rio-centrica, muito sudestina, para usar o mesmo termo que a gente usa. Uma história muito em volta da corte e uma história muitos branca e portanto muito colonial.
Bom, e do outro lado? Você está no mercado editorial como escritora co-fundadora de uma editora [Companhia das Letras]: o que o Brasil tem lido?
Olha, o brasileiro está mais diverso. Acho muito interessante. Não é um bom momento para ficção e um excelente momento para a não-ficção. É impressionante. Se você pegar os números de mais vendidos e menos. Agora, de longe, os livros que mais vendem são de não-ficção.
Será que a realidade está mais próxima da ficção? Eu penso que sim. Eu acho que está. Vou dar o meu exemplo. Eu que sou conhecida por demorar para escrever, escrevi sobre autoritarismo [Sobre o autoritarismo brasileiro] em pouquíssimo tempo. Acho que o livro era um livro certo na hora certa. Agora, são 42 mil livros publicados. O livro saiu em maio, é muita coisa. Têm livros que vendem direito. Mas esse vai bater.
É um público que tenho descoberto inclusive nas redes, um público desapontado, desapontado com todos. A minha geração eu considero que falhou (risos). Mas tem uma nova geração com novas opções, novos discursos, novas possibilidades. Acho que você tem toda razão, a realidade está mais próxima da ficção.