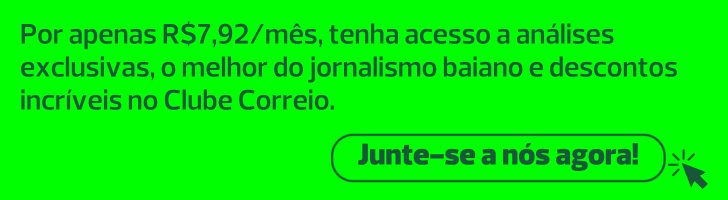Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
George Floyd e o nosso apartheid cordial
-
Paulo Sales
Publicado em 8 de junho de 2020 às 05:00
- Atualizado há 2 anos

Revoltados pelo assassinato covarde de George Floyd e exaustos da perpetuação do preconceito e da brutalidade fardada, os negros norte-americanos lançaram-se de novo às ruas do seu país. Os cartazes evocam a última frase de Floyd, asfixiado pelo joelho do policial branco: “Eu não consigo respirar”. Esse levante comprova que o preconceito racial nos Estados Unidos está longe de ser uma página virada, apesar da evolução significativa ocorrida nos últimos 50 anos. Não por acaso, o atual presidente relativiza o ódio e traz de volta um discurso que até então parecia soterrado. Não está.
O caso George Floyd dá seguimento a uma trajetória de opressão que vem desde a Guerra Civil Americana, no século 19, quando se deu a libertação do povo negro. Libertação em termos, é claro. Nas primeiras décadas do século 20, os descendentes de escravos viviam em guetos, sob condições miseráveis, apartados dos brancos por leis severas. E pior: eram rotineiramente espancados, enforcados e deixados suspensos em árvores. Basta lembrar os versos de Strange Fruit, imortalizada por Billie Holiday: “Aqui está a fruta para os corvos arrancarem /Para a chuva recolher, para o vento sugar /Para o sol apodrecer, para as árvores derrubarem /Aqui está a estranha e amarga colheita”.
O século passado viu o recrudescimento das tensões raciais e o nascimento de heróis até então improváveis. Rosa Parks recusou-se a ir para o banco de trás de um ônibus. Muhammad Ali trocou os socos pela eloquência. Martin Luther King e Malcolm X exortaram de diferentes maneiras a tomada de consciência do seu povo. Direitos foram conquistados à força e, décadas mais tarde, a América elegeu seu primeiro presidente negro. Mas, de tempos em tempos, irrompe o ódio latente de uma sociedade brutalizada. É preciso lembrar de novo que vidas negras importam.
Não só nos EUA, mas em qualquer lugar. Inclusive no nosso país miserável, onde o racismo estrutural – sorrateiro e igualmente perverso – se manifesta das mais diversas formas. A mais devastadora é a execução sistemática de crianças e jovens negros pela polícia. No Rio de Janeiro do governador Wilson Witzel, a matança tornou-se política de estado. Para se ter uma ideia, policiais norte-americanos mataram 1.099 pessoas no ano passado, das quais 24% eram negras. No Brasil, a polícia fez espantosas 5.804 vítimas. E nada menos que 75% (ou 4.533) tinham a pele escura. Ao contrário de Floyd, elas não provocam comoção generalizada nem movimentam as redes sociais.
Sempre se convencionou pensar que o nosso preconceito era menos nocivo que o dos norte-americanos, por não ter gerado grandes conflitos interraciais ou propagado oficialmente a segregação. Aos poucos, a conta dessa falácia vem sendo cobrada. Aqui, a regra sempre foi a dissimulação, o não-dito, o racismo cordial do “ela é quase da família” para as empregadas domésticas de longa data. Mas essa dissimulação não esconde o óbvio: a ferida está em carne viva.
Num país onde a desigualdade social e a violência se disseminam, torna-se ainda mais palpável o fato de que vivemos num regime de apartheid. Um apartheid imperceptível a olho nu, que se sente na alma. Mas é claro que ninguém vai dizer isso abertamente. Afinal, somos todos cordiais.