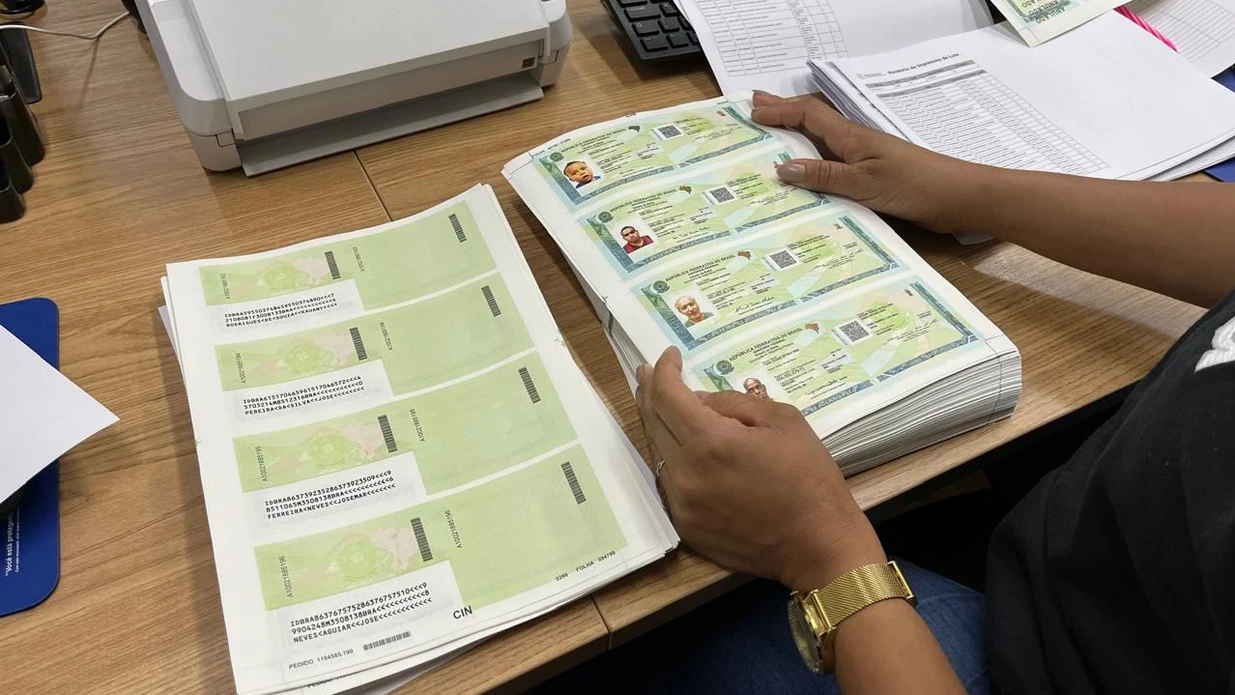Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
É por isso que tem tanta mulher com pouca roupa no Carnaval de Salvador
Olho feliz para cada uma delas lembrando que sou das ‘mais velhas’ que não arredaram
-
Flavia Azevedo
Publicado em 10 de fevereiro de 2024 às 08:00
Queria ter vivido isso, agora comum, de sair de shortinho e top ou biquíni, de barriga de fora e bunda descoberta, aos 16 anos, quando dos meus primeiros Carnavais. Não que eu não possa hoje, aos 49. É só dar vontade. Mas – por mais que eu já tenha abolido o sutiã e trocado as bermudas por shorts – a voz de Mainha ainda ecoa na minha cabeça com as instruções de modos e vestuário para enfrentar multidões. Até hoje, pra mim, é difícil sair ‘nua demais’. A sensação é de vulnerabilidade. Veja: adolesci em um tempo no qual esse figurino era impensável para mulheres, na festa mais livre do mundo e de todas as galáxias.
Lá pelos anos 1990, tive curso teórico e prático de ‘como não ser estuprada no Carnaval de Salvador’. A barra era pesadíssima. No teórico, o conceito estrutural era ficar ‘invisível’ e ‘desinteressante’. Para homens, claro. Então, usar bermuda folgada, camiseta larga e sutiã. Importante, também, não ter ‘por onde ser puxada’. Ou seja, cabelos presos, brincos pequenos, nada de colares. Na parte prática do curso, atravessamos a Avenida Sete – lotada de trios e foliões - com Mainha ensinando a ‘não ligar’ para eventuais assédios e violências. A passar direto, adiantar o passo e despistar. Não que resolvesse 100%, mas ajudava a não acontecer nada ‘pior’.
Aprendi, segui as instruções e, mesmo assim, como todas as mulheres que se arriscavam a sair – sem escolta masculina – no Carnaval de Salvador, fui violentada. Felizmente, não estuprada, de fato, que era o ‘algo pior’. Mas, muitas vezes, sofri o que chamamos hoje de importunação sexual. Que passou a ser crime, no Brasil, só em 2018 e significa “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. Aí, era a coisa mais normal do mundo. Assim como os estupros dos quais escapei, abusos aconteciam toda hora, dentro dos circuitos, e esse é um dos motivos pelos quais não tenho a menor nostalgia dos “antigos carnavais”, apesar de também ter vivido muita coisa boa.
Nunca vou esquecer dos grupos de playboys (eram ‘brancos’ de classe média/alta) que nos colocavam no meio de uma roda e forçavam beijos e passadas de mãos. Em Ondina sempre tinha. Quanto mais a gente resistisse, mais violenta a ‘brincadeira’ ficava. As ‘dedadas’ eram o tempo todo, em qualquer lugar. Assim como o asqueroso hábito de se esfregarem em nossas bundas, em toda aglomeração. Já tive a roupa rasgada por um Filho de Gandhy, ali no centro. Dos Muquiranas nem se fala. As histórias são muitas, apesar das bermudas folgadas, dos sutiãs apertados, das camisetas largas e de todo o protocolo ‘anti-violência masculina’ que cumpri à risca, durante tantos carnavais.
Hoje, todos sabemos que a culpa não é da vítima, mas isso só foi ‘descoberto’ mais tarde. Lá nos 1990, mulher ‘desacompanhada’ na folia estava ‘pedindo’ e quanto mais ‘nua’, pior. Pra você ter ideia, os cordeiros (eram só homens) de quase todos os blocos avançavam sobre nós na ‘pipoca’ e a primeira vez em que vi uma reação feminina à altura foi quando Cristiane, uma amiga que era faixa roxa de judô (cadê você, Cris?), meteu um monte de murros em várias caras. Como mágica, o paredão de machos recuou. Sensacional! Corri atrás dela - antes que eles voltassem - ambas às gargalhadas. No mesmo Carnaval, ela ainda jogou no chão e imobilizou um gaiato no Corredor da Vitória. Minha heroína imortal!
Eu nunca saí das ruas. Cristianes também não. Enfrentamos. Insistimos dançando, rebolando e rindo – eventualmente esmurrando - cheias de glitter, em nossas roupas de guerra. Ao longo do tempo, essa ocupação de território foi tomando novas formas e conteúdos. Fomos chamadas de putas e ensinamos que ‘puta não é xingamento’. Explicamos que ‘não é não’ e que ‘meu corpo minhas regras’. Denunciamos, pressionamos a justiça, prendemos agressores. O protocolo de Mainha foi, aos poucos, substituído pela imposição da nossa presença na folia. Do jeito que quisermos, com as roupas que escolhermos vestir. Reflexo do que – paralelamente - acontecia fora do Carnaval, no dia a dia. Em todos os âmbitos, a ascensão de objeto a sujeito, enfim.
Das salas de parto à Praça Castro Alves. Nos consultórios médicos. Do escritório ao Natal em família. Das relações com o chefe aos termos dos nossos casamentos. Nos namoros, nos casos, nos botecos, nas profissões, nas universidades. No humor, nos enredos das novelas, nos livros. Não passa nada, há algum tempo. Quando passa, a gente grita. Marcamos em cima com o tal do feminismo que, afinal, serve pra isso: pra mulher ser gente. O trabalho é eterno e muito cansativo, mas quando for brincar o Carnaval, olhe direitinho e veja o que já conseguimos.
É por isso que tem tanta mulher jovem com pouca roupa no Carnaval de Salvador. Porque trabalhamos duro e estamos vencendo. Eu me vejo em todas e muito nas mais nuas e livres e lindas e destemidas. Olho feliz para cada uma delas lembrando que sou das ‘mais velhas’ que não arredaram. Vejo todas como minhas descendentes assim como de Mainha e de todas as outras que vieram antes de mim, dela e de Cristiane. É uma delícia viver pra ver isso. Sinto amor, felicidade e vitória. A gente se encontra e se abraça na avenida. Acontece sempre. Obrigada a todas por serem como nós sempre quisemos ser. Tia tá orgulhosa e manda beijinhos.
Flavia Azevedo é articulista do Correio, editora e mãe de Leo