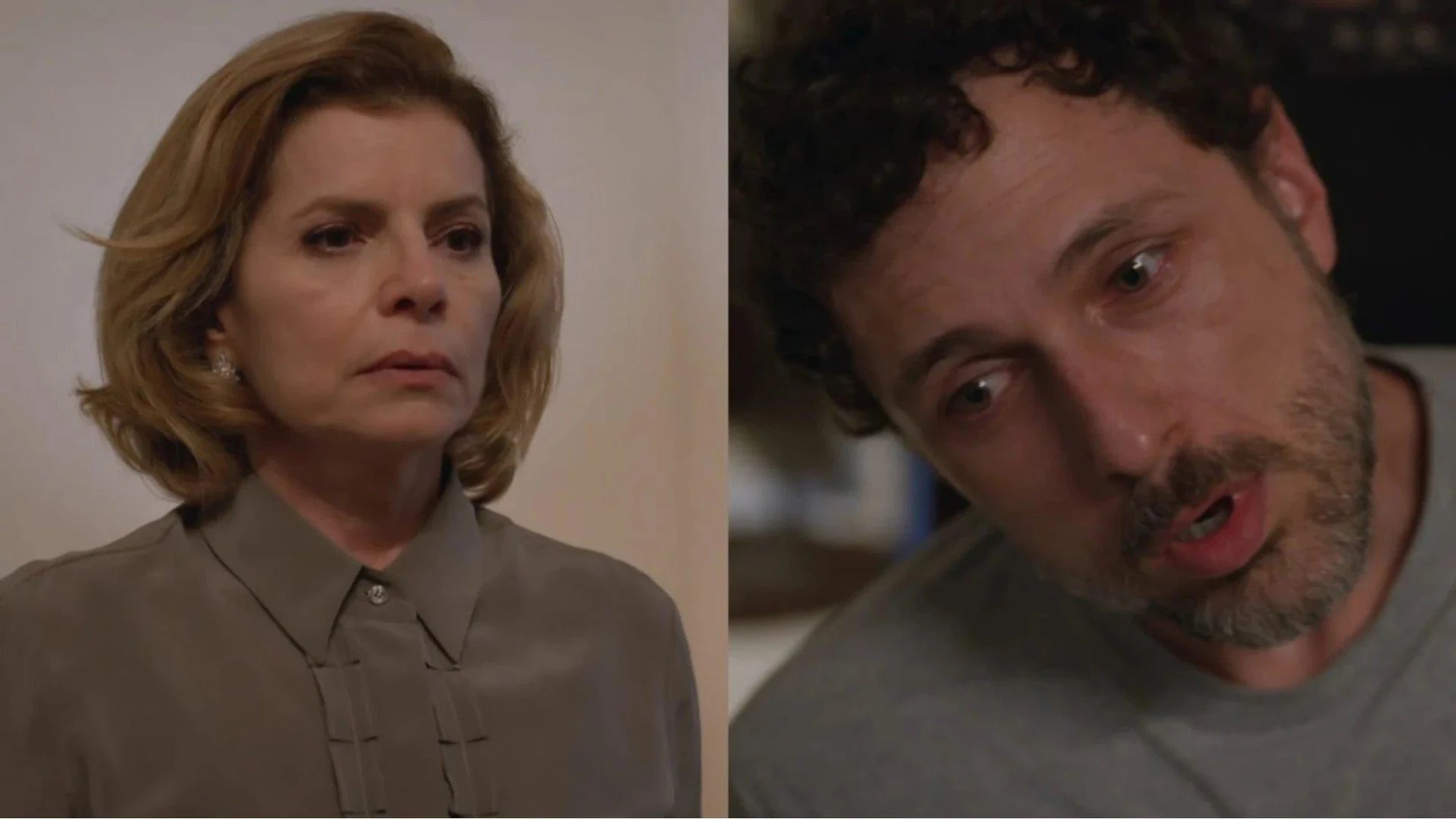Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
A matéria-prima de que somos feitos
-
Paulo Sales
Publicado em 6 de julho de 2020 às 05:00
- Atualizado há 2 anos

À medida que envelhecemos, vincos, cicatrizes, manchas senis e outras marcas do tempo se colam ao nosso corpo. São sobras de feridas profundas, tatuagens da juventude ou vestígios de antigas enfermidades que, aliados a rugas e cabelos brancos, dão forma a quem somos quando atingimos certa maturidade. Nossos rostos e nossos corpos mudam, deformando-se ou alcançando uma inesperada harmonia. Somos como rochas desfiguradas pela erosão dos ventos e do sol, ou como rios assoreados pela falta de vegetação nas margens.
Eu tenho cá minhas marcas do tempo: uma cicatriz quase imperceptível, fruto de uma queda de mobilete, que prendeu meu pé esquerdo ao pedal e ao motor fervendo; a marca de uma cirurgia nas costas para a retirada de um cisto no sacro-ilíaco; uma pequena deformação na pálpebra direita, causada por um terçol mal-curado; a coluna rígida que me tira a mobilidade, consequência mais evidente de uma doença reumática; um sulco entre as sobrancelhas deixado por uma herpes-zóster. E, por fim, uma tatuagem com uma rosa-dos-ventos no braço. Esses sinais – aliados aos cabelos grisalhos, às pequenas bolsas sob os olhos e aos quilos a mais – contam a minha história exterior.
Mas a nossa verdadeira história é aquela contada pelas cicatrizes que ficam voltadas para o lado de dentro. Se fosse possível fazer um exame de ressonância magnética ou tomografia computadorizada que mostrasse essas cicatrizes, saberíamos de verdade qual a matéria-prima de que somos feitos. Nosso cérebro, como o de qualquer pessoa que passou pelas intempéries que a vida impõe, é tomado por feridas, em carne viva ou devidamente cauterizadas, na forma de frustrações, perdas, remorsos e arrependimentos.
Algumas, provavelmente, estão lá desde que começamos a ser gente, ainda no útero. Outras regeneraram quase completamente, mas mesmo sua tenuidade deixa claro que elas existem e fazem parte do que somos. Há, ainda, aquelas que nos deixam em permanente alerta, como a perda particularmente dolorosa de alguém muito querido, equivalente talvez a marcas de dentes de tubarão numa perna dilacerada. Elas estão lá como um aviso silencioso: dizem que é preciso ter cuidado, que não dá para se jogar com tudo. Enfim, que o mundo costuma aplicar peças traiçoeiras.
Creio que não sairemos incólumes de tudo que estamos vivenciando neste 2020. Um ano que está sendo forjado em perplexidade, incompreensão, impotência e pesar. Anestesiados e exaustos, perdemos a percepção da passagem voraz do tempo, a fortaleza do afeto, a dor e a delícia de ser o que somos. O prazer prosaico de ir e vir, com ou sem rumo. De abandonar-se ao mar, flertar com o desconhecido ou com desconhecidos, respirar ar puro ou poluído sem medo e sem remorso.
O sentimento é um tanto vago, indefinido, como uma sombra ou um espasmo. Sabemos que as máscaras não vão deixar marcas duradouras em nossos rostos e nosso semblante voltará ao normal, assim como nossa vida cotidiana. Mas tenho receio de que, enquanto permanecemos paralisados em meio ao confinamento, assistindo diariamente a uma tragédia coletiva que também é nossa, cicatrizes estão sendo tatuadas nas nossas paredes internas. São como dragões, âncoras e caveiras disformes cravados em mucosas. E vão ficar lá por toda a vida.