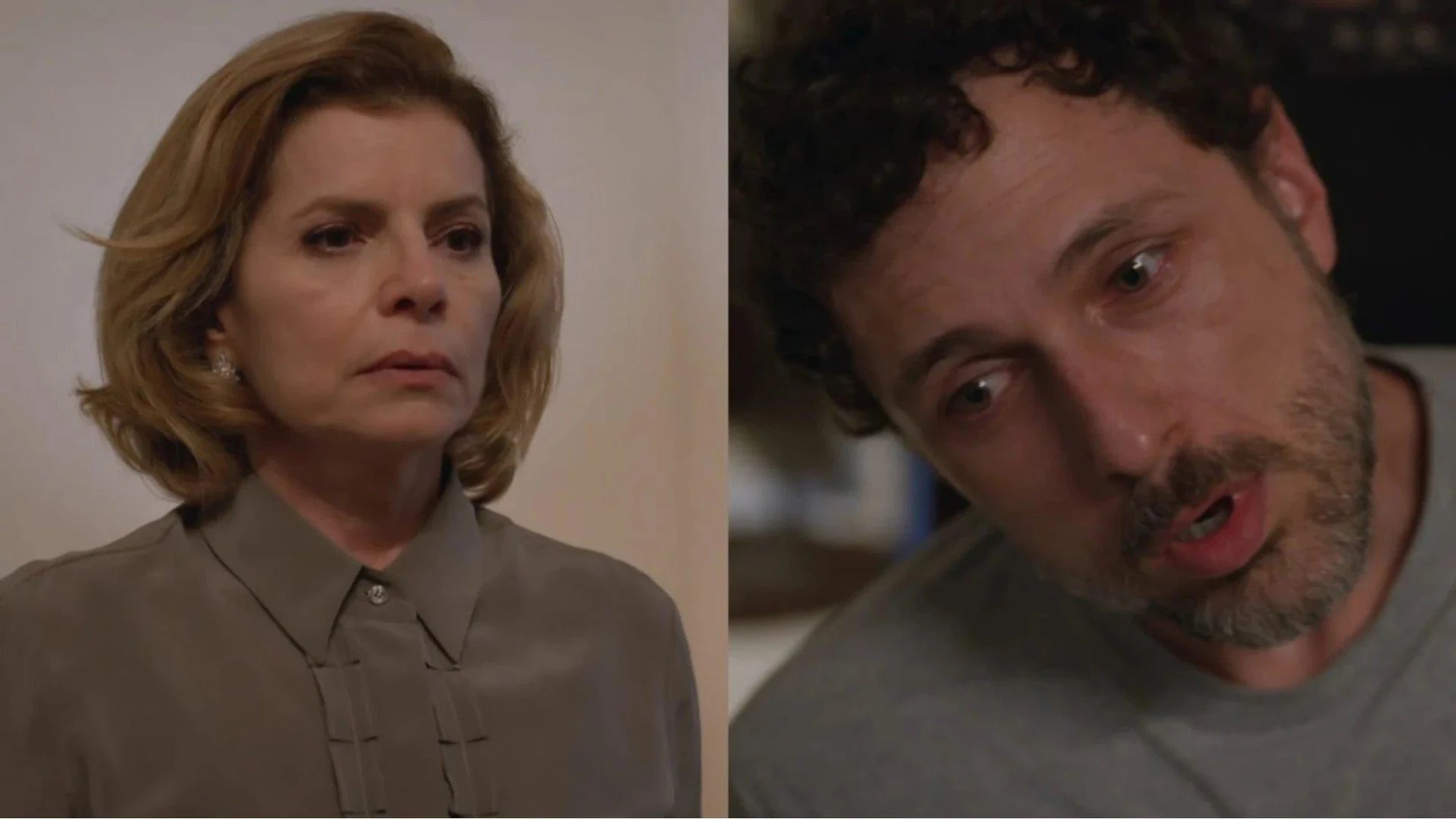Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Meia-noite no mundo
-
Paulo Sales
Publicado em 18 de maio de 2020 às 05:00
- Atualizado há 2 anos

Enquanto bebo vinho com minhas duas mulheres, preso em casa, eu me imagino como um Gil Pender. Sim, aquele personagem de Meia-Noite em Paris que viajava ao passado, bastando para isso sentar-se nos degraus de uma igreja no Quartier Latin. Impedido pelas mais diversas razões (financeiras sobretudo) de me amparar nas mesmas escadarias, eu me aconchegaria aos pés da Igreja do Bonfim ou do São Francisco, esperando as badaladas que me levariam, enfim, ao passado que não conheci.
Como o atrapalhado Pender do filme de Woody Allen, eu também retornaria à Paris mundana dos anos 20, invadida por hordas de escritores e artistas, em grande parte americanos expatriados. Imortalizados por Gertrude Stein com a alcunha de Geração Perdida, eles contribuiriam com doses cavalares de gim, palavras e hedonismo para forjar o que ficaria conhecido como os anos loucos – ou Era do Jazz, como bem definiria F. Scott Fitzerald, meu deus do Olimpo ao lado de Ernest Hemingway.
Essa época representou um saudável hiato de prosperidade e libertação entre duas guerras absurdamente brutais. Paris era então absurdamente bela (como sempre) e barata (como nunca) e a intelectualidade que ajudaria a edificar o século 20 estava lá, se embebedando no Flore, Les Deux Magots ou La Closerie des Lilas – que ainda estão de pé, devidamente transformados em chamarizes para turistas, e mesmo assim deliciosos.
Mas eu usaria melhor a escadaria. Da Paris dos anos 20, me transportaria para a Nova York de meados dos anos 40. Imagino a mim mesmo presenciando a verdadeira era do jazz florescer: o bebop de Charlier Parker, Dizzy Gillespie e Bud Powell destroçando as orquestras de Duke Ellington e Count Basie e soletrando a linguagem moderna do mais belo dos gêneros musicais. Veria Miles Davis iniciando sua carreira na 52nd Street, sentindo-se acuado pelo virtuosismo de Dizzy e concebendo meio sem querer um troço chamado cool jazz.
De volta à escadaria, pularia mais uma década e cairia no Rio do final dos anos 50, quando os embriões que davam forma à bossa nova começavam a se desenvolver como rebentos de estrutura sólida. Ah, o Rio. Tom, Vinicius e João tramando melodias, subvertendo harmonias, vivenciando uma cidade que ficava pouco aquém do paraíso católico – não, muito melhor. O pôr do sol no Arpoador, as madrugadas bêbadas no Beco das Garrafas, o prazer epicurista dos versos, acordes e goles de Vat 69, o cachorro engarrafado favorito do Poetinha.
A escadaria me levaria então à porralouquice dos anos 60 em San Francisco: liberação sexual sem limites, drogas pesadíssimas e, recém-saídas do forno, as canções de Bob Dylan ancoradas na prosódia beat de Allen Ginsberg e Jack Kerouac. Eu estaria lá, meio pasmo e meio fascinado, descobrindo que, para além do jazz, havia o rock, e que aquela música primitiva e barulhenta era uma delícia.
Por fim, chegaria a hora de voltar para casa. Bem, ainda não. Passaria uns dias frequentando o Porto da Barra ao lado daquele poeta cabeludo que atendia pelo nome de Caetano, que, por acaso, escuto agora. Sim, o mesmo Porto onde nasceria logo em seguida, num hospital à beira-mar, arrebentando como um estrondo no dia 4 de fevereiro de 1970.