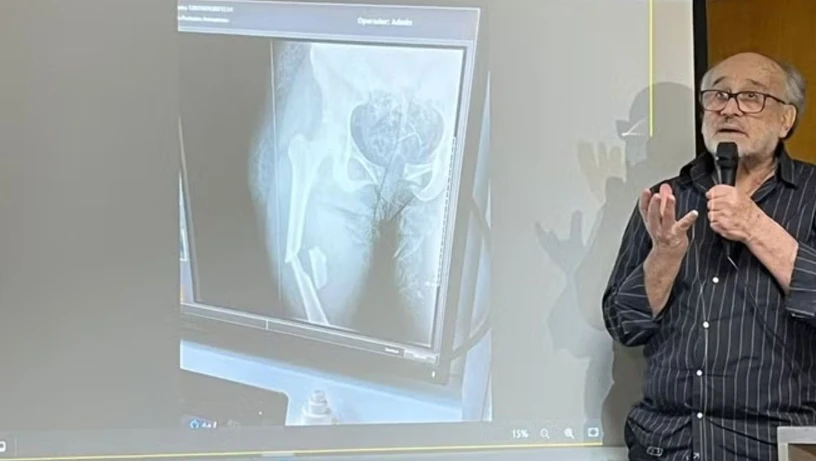Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Os heróis da minha aurora
-
Paulo Sales
Publicado em 2 de maio de 2022 às 05:30

Outro dia, Lee Majors completou 83 anos. Mas quem ainda se lembra de Lee Majors? Na aurora da minha geração ele encarnava o arquétipo do herói, protagonizando a série O Homem de Seis Milhões de Dólares. Todas as tardes – ou noites, não lembro mais – assistíamos às peripécias do homem biônico (termo hoje totalmente fora de moda, mas o suprassumo da tecnologia naquela época, meados dos anos 70).
Vítima de um grave acidente aéreo, o astronauta Steve Austin, vivido por Majors, teve parte do corpo reconstituída: as duas pernas, um braço e um olho passaram a ser mecânicos. Com isso, ele corria com extrema rapidez e saltava enormes distâncias, além de ter um tremendo soco e visão telescópica. Seus saltos em câmera lenta, que vinham acompanhados de um som característico, eram um atrativo à parte, que tentávamos reproduzir inutilmente na escola com nossos congas e kichutes estropiados.
Revi agora no YouTube a abertura da série e me transportei para o passado. Incrível como aquilo ficou gravado no disco rígido do meu cérebro. Era um tempo – impensável para as crianças de hoje – em que só havia dois canais de tevê disponíveis em Salvador: Globo e Tupi. Além das novelas globais, consumíamos enorme quantidade de lixo pop e adorávamos tudo aquilo, pouco importando se eram “enlatados americanos”.
Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, O Elo Perdido, As Panteras (com a antiga senhora Majors, Farrah Fawcett), Dallas, A Feiticeira, Agente 86, Mulher-Maravilha, Lessie, O Incrível Hulk (com um David Banner fracote e tristíssimo), Tarzan (outra série de abertura memorável, com aquela cacofonia selvagem), Flipper e tantas outras. Havia nessas séries um ideal de aventura e coragem, com a tecnologia começando a dar as caras, que fazia a cabeça de crianças introspectivas como eu fui.
Era como a descoberta de um universo paralelo, longe da mesmice e das limitações físicas, que bem ou mal produzia uma nova perspectiva, ampliava a nossa formação e incutia em nós a necessidade de conhecer melhor o mundo em que vivíamos. Para além da escola e da casa, dos colegas e da família. Para além da bola na praia, das brincadeiras com bonequinhos de plástico, das tardes lendo revistinhas em quadrinhos.
Às vezes me pego tomado por uma melancolia passageira por saber que não há mais volta, apenas um ir contínuo para bem distante do que se foi um dia. Mas a memória afetiva serve para isso mesmo: para que não nos esqueçamos de quem fomos e de onde viemos. Para que o garoto que assistia àquelas séries não se perca no emaranhado de referências em que nos transformamos.
Vejo a mim mesmo naquele tempo: tímido, gordinho, com um sentimento de inadequação que me acompanharia até a vida adulta. Um anti-herói, sem os atributos físicos e morais que se espera de um protagonista da própria trajetória. Afinal, ao contrário do homem de seis milhões de dólares, eu não tinha superpoderes.
Era frágil e vulnerável como o personagem de um filme do qual gostava muito, chamado Perdido no Deserto. Passava sempre nas sessões da tarde do meu alvorecer particular: um garoto sobrevivia a um acidente aéreo e vagava sem rumo com seu cachorrinho por dunas sem fim, enfrentando a sede, o calor e a mordida de um escorpião. Ao final, era salvo pelo pai.
Não sinto falta da infância, nem mesmo da adolescência, apesar dos bons momentos em família e com amigos. Talvez porque caminhasse no escuro, tateando em busca de uma luz para meus
questionamentos pueris e meus sentimentos difusos e intensos demais para uma criança daquela idade. Aos poucos, fui encontrando um caminho. Tortuoso, traiçoeiro, mas mesmo assim um caminho. Foi assim que cheguei até aqui.