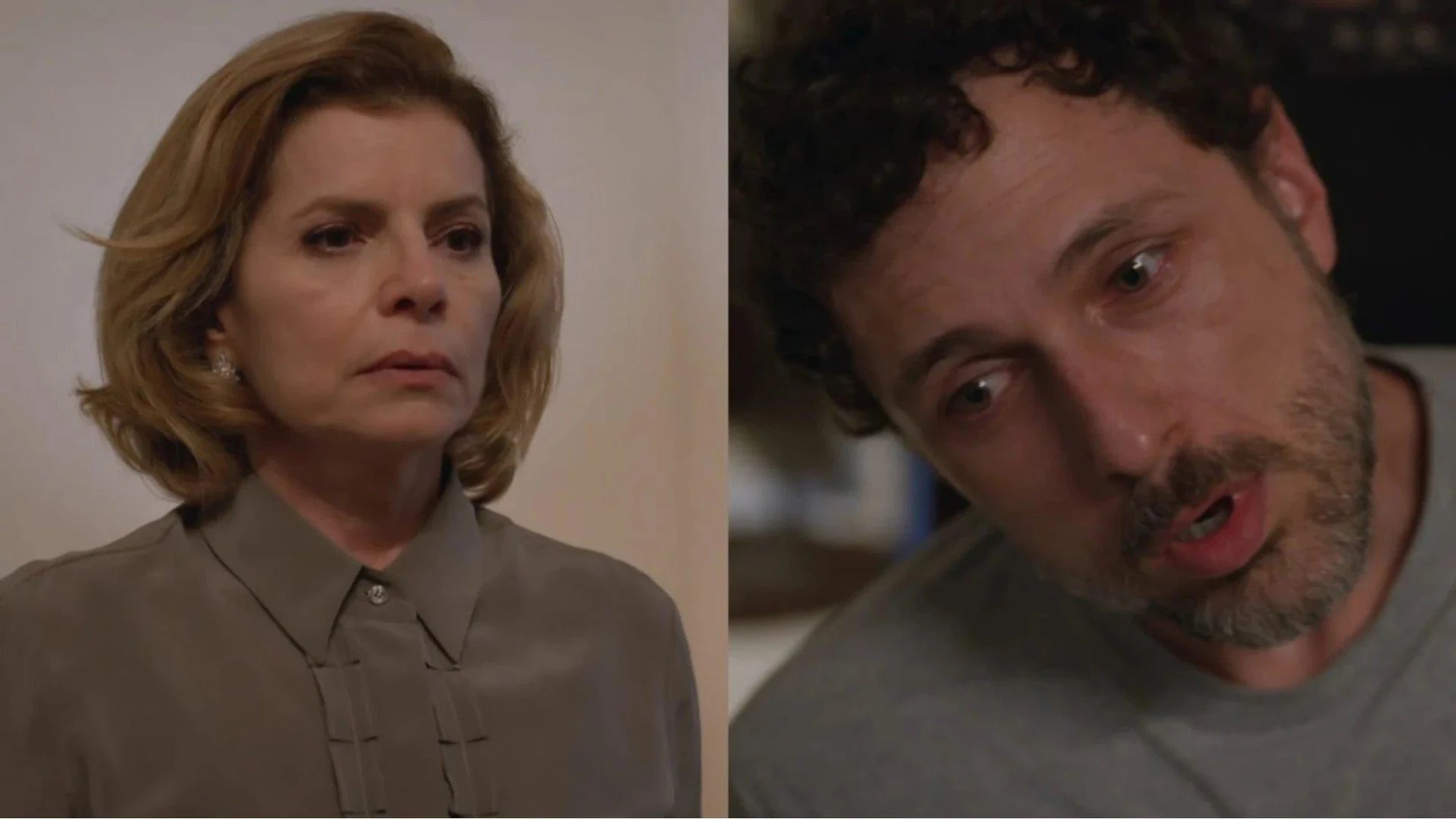Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pegadas de gigantes
-
Paulo Sales
Publicado em 27 de julho de 2020 às 05:00
- Atualizado há 2 anos

Fui uma criança introspectiva, ensimesmada. E sempre houve em mim certa predileção pela arte e a beleza. Tinha por hábito desenhar compulsivamente. Era meu mundo particular, ainda não contaminado pela literatura, no qual Leonardo Da Vinci despontava como ícone maior. Adorava contemplar gravuras e livros com os quadros que ele criou: A Anunciação, Mona Lisa, A Última Ceia, o Homem Vitruviano, os esboços manchados e desbotados. Sua trajetória sólida e inventiva também me despertava curiosidade. Algo um tanto inusitado para um menino de sete ou oito anos.
Essa relação profunda com a arte arrefeceu com o passar das décadas, mas nunca desapareceu. Um dia, voltou com tudo. Lembro que há cinco anos, quando me deparei sem esperar com o original de A Anunciação na Galleria Degli Uffizi, em Florença, toda a minha infância e o amor pela pintura voltaram num átimo. Os olhos do homem adulto ficaram úmidos, como se ali estivesse o menino tímido que passava tardes desenhando em silêncio. Toda a minha história passou por minha mente naqueles minutos, provocando uma imensa sensação de ternura e saudade.
Curiosamente, o encontro com a Mona Lisa no Louvre não me trouxe a mesma emoção. Talvez pela aglomeração de pessoas em volta do quadro, mais preocupadas em tirar selfies que admirar a pintura. Eu a vi de longe, quase um borrão, e sequer pude tentar desvendar o significado do seu sorriso. Ao menos o Louvre me proporcionou a emoção de subir uma escadaria e, ao final dela, me deparar com o esplendor da Vitória de Samotrácia, enorme escultura grega datada de 190 A.C. Ao vê-la, renovei minhas esperanças na humanidade. Por me dar conta de que, desde nossa aurora, somos capazes de produzir beleza – e nos fascinarmos com ela.
Ao longo dos anos, tive a felicidade de estar frente a frente com obras-primas que ajudaram a formar o meu próprio acervo de beleza. Meus olhos viram A Persistência da Memória de Dalí e Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, no MoMA. A Capela Sistina de Michelangelo, no Vaticano. A Ronda Noturna de Rembrandt, no Rijksmuseum. Saturno Devorando um Filho e as Pinturas Negras de Goya, no Prado. Uma profusão de Monet, Degas, Van Gogh, Cézanne e Matisse, no D’Orsay. Outra profusão de Pollock, Braque, Kandinsky, Magritte, Klee e Miró, na Galeria Peggy Guggenheim. Clareiras se abriram para mim, devastando a obscuridade. Era como se me deparasse com pegadas de gigantes.
Não sei se vai restar alguma coisa da nossa passagem pela Terra daqui a milhares, milhões de anos. O mais provável é que nos tornemos areia, entulho e imensidão vazia, com um ou outro sinal furtivo de civilização extinta. Como naquela cena derradeira de O Planeta dos Macacos, quando Charlton Heston se ajoelha em desespero diante do que sobrou da Estátua da Liberdade numa praia deserta. Se me fosse possível escolher, gostaria que restassem as obras de arte, por mais vulneráveis e perecíveis que sejam. Não apenas pinturas, mas também esculturas, livros, celulóides, discos e algum tipo de memória da nossa grande arquitetura. Quem sabe, a partir desses sinais, alguma civilização avançada conseguisse trazer de volta o que fomos. Mas só o que erguemos, não o que destruímos.