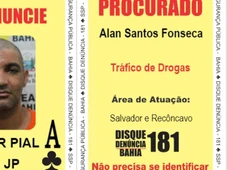Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Salman Rushdie e a nossa via-crúcis
-
Paulo Sales
Publicado em 22 de agosto de 2022 às 05:05
- Atualizado há 2 anos

Demorou décadas, mas aconteceu. Salman Rushdie foi enfim atacado. O escritor anglo-indiano felizmente se recupera bem das facadas desferidas por um maníaco fundamentalista de nome Hadi Matar (mais do que um nome, soa como uma profecia). É um desfecho tardio, extemporâneo e trágico da Fatwa, maldição fatal lançada contra Rushdie em 1989 pelo Aiatolá Khomeini, líder religioso iraniano, por conta do livro Os Versos Satânicos. Motivo: a obra conteria supostas ofensas a símbolos sagrados do islamismo.
Salman Rushdie passou grande parte da vida escondido, protegido pela polícia inglesa de tipos como Hadi Matar. Sua via-crúcis é relatada com riqueza de detalhes no livro de memórias Joseph Anton (pseudônimo usado pelo autor para não ser descoberto). É uma obra instigante, igualmente crua e irônica. Rushdie é um homem do seu tempo, um intelectual cosmopolita que cultiva e preza os melhores valores ocidentais, amigo de gente do quilate de Ian McEwan, Martin Amis e Julian Barnes.
Mas, por expressar livremente a sua forma de pensar sobre as próprias origens indianas, acabou se vendo às voltas com uma turba de fundamentalistas. Resgato esse trecho do Joseph Anton: “A intolerância, o preconceito e a violência ou a ameaça de violência não são ‘valores’ humanos. São a prova da ausência de tais valores. Não são as manifestações da ‘cultura’ de uma pessoa. São mostras da incultura de uma pessoa.”
A reflexão de Rushdie é precisa. E o que ele descreve encerra a face mais dolorosa de um mal que, passado tanto tempo, permanece sólido como os pilares de uma igreja medieval: a influência nefasta de certas religiões sobre uma enorme parcela, inculta e miserável, da humanidade. Tão trágico quanto fazer o mal conscientemente é fazer o mal acreditando que ele é parte integrante de uma estratégia do bem.
É evidente que nem todas as crenças se comparam aos extremos do fundamentalismo islâmico. Impossível não se indignar com as mazelas causadas por grupos radicais – no poder ou fora dele – em várias partes do mundo (particularmente no Oriente Médio e alguns países muçulmanos da Ásia e África). A leitura obtusa e distorcida do Alcorão é uma praga que voltou a assolar a civilização numa era em que, eliminado o nazismo, tinha-se a impressão de que estaríamos livres da idiotia coletiva. Nem mesmo o nazismo foi eliminado de todo, vale ressaltar.
Gostaria de entender o fanatismo. Justificar de alguma forma a força irremovível exercida sobre os rebeldes violentíssimos do Boko Haram, na Nigéria, ou os tipos demenciais do Talibã, no Afeganistão. Ou até, agora entrando em outra seara, compreender a sina trágica das pessoas sem vivência ou educação formal que são ludibriadas diariamente por vigaristas travestidos de pastores nesses simulacros de igrejas neopentecostais que proliferam Brasil adentro.
Para um ateu humanista que cultiva o epicurismo, essa é uma tarefa quase impossível. Mesmo pondo na balança os valores morais positivos propagados pelas diversas religiões, qual o efeito prático delas para a humanidade? Dostoiévski já disse, através das palavras de Ivan Karamazov, que se Deus não existe tudo é permitido. Mas tudo já não é mesmo permitido, de uma forma ou de outra? Os genocídios, a desigualdade extrema, as legiões de famintos e expatriados não são exemplos dessa permissividade?
Invertendo a lógica do gênio russo, cometo a heresia de fazer uma pequena provocação: se Deus existe, que função ele desempenha na engrenagem do mundo? Seria uma figura decorativa, uma rainha da Inglaterra na monarquia celestial? Ou apenas dá gargalhadas dos nossos planos, anseios e aspirações? Volto a dizer, antes que me trucidem: essa é apenas uma provocação, e guardo profundo respeito pelas manifestações do sagrado, desde que autênticas e pacíficas.
Penso que acreditar em Deus representa uma tentativa de nos elevar a um patamar superior à insignificância a que estamos relegados. O que não é necessariamente ruim, diga-se. O papel das religiões – e nisso elas ainda são imprescindíveis – é mitigar a dor primordial que move a existência humana desde que éramos sapiens nômades colhendo frutas e temendo o breu: o fato de que todos nós – eu, você, Salman Rushdie, os moribundos nos hospitais e os bebês recém-nascidos – estamos condenados a não ultrapassar o limite de nossas próprias vidas. Aquelas três letrinhas que, quando reunidas, nos enchem de perplexidade, horror e um tanto de resignação: F, I, M.