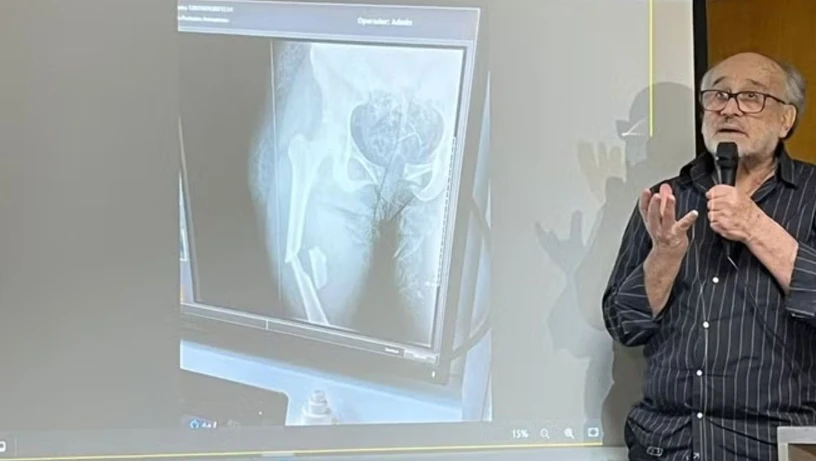Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Samba de roda, pagodão e churrasco: as aventuras de Mano Brown no sertão da Bahia
Filho de baiana, rapper veio conhecer história de seus antepassados e cogita voltar à Bahia ainda no fim deste ano
-
Hilza Cordeiro
Publicado em 7 de novembro de 2020 às 06:56
- Atualizado há 2 anos

Era fevereiro, mês em que o verão é mais verão na Bahia e quem pode pega estrada em direção ao mar. Prestes a completar 50 anos, o rapper Mano Brown escolheu ir para o lado contrário: o sertão. Esperado para cantar pela primeira vez em cima de um trio no Carnaval de Salvador, o cantor deu antes uma passada num destino a 180 Km da capital baiana, a cidade de Riachão do Jacuípe, terra de origem da sua mãe, Dona Ana Soares, já falecida. Feita em companhia da filha, a atriz Domênica Dias, a jornada ao interior do estado durou quase uma semana e foi um resgate das histórias das suas raízes familiares.
Equilibrados sobre o lajedo inclinado de pedras à beira do rio, os primos de Brown tiram um samba das palmas das mãos. “Ôh, mulher, tu vem morar mais eu, teu pai e tua mãe te amam, mas não amam como eu”, puxam eles, enquanto o rapper assiste e acompanha. Era ali às margens do Rio Jacuípe que ainda menina Dona Ana lavava roupas e se punha a cantar junto com outras lavadeiras — uma cena bastante comum nos semiáridos. “A gente estava lá tocando e ele perguntou assim: ‘Isso aqui é chula ou samba de roda?’ Aí eu falei: ‘Ói, primo, quer saber? É tudo a mesma coisa’”, gargalha Guel Soares, primo em primeiro grau de Brown.No Instagram, o rapper compartilhou um vídeo do momento e legendou: “como eles mesmos dizem, família de sambador”.
O samba que corre na veia deles uma parte vem do falecido Feliciano Soares, conhecido como Friciano, irmão de Dona Ana. Friciano era vendedor de farinha no mercado popular e um dos mais célebres cantores e tocadores de cavaquinho do Sufoco da Fumaça, uma das rodas mais tradicionais da cidade, liderada por Zé Cândido. Até hoje a professora Antonieta Soares, filha dele e prima de Brown, guarda o histórico instrumento do pai.
Nieta conta que, por muito tempo, não fazia ideia de que era parente do artista mais respeitado do rap brasileiro, só tinha conhecimento de que a tia Ana Soares vivia em São Paulo. A descoberta só aconteceu dez anos atrás, quando o ônibus da banda Racionais fez parada às margens da rodovia em Riachão e o alvoroço foi formado. “Fui olhar para ele e vi que, de fato, os traços eram iguais aos do meu pai”, lembra ela.
Friciano, segundo relata Zé Cândido, já cantava em rodas desde rapazote, muito antes de entrar para a Sufoco da Fumaça. Formava uma dupla com o sobrinho, Raimundo Oliveira, hoje com 75 anos, e tocavam em rezas e carurus de São Cosme e Damião nas fazendas. Atualmente açougueiro, Raimundo, também primo do rapper, diz que o samba está nas suas memórias mais antigas e deve ter vindo de tempos anteriores ao de seus avós.
Em depoimento dado, há 20 anos, à Revista Teoria e Debate, Mano Brown revelou, inclusive, que começou sua carreira escrevendo samba. Chegou a pensar em seguir, até tocava bem, mas não foi para frente. O tempo dedicado não foi perdido. As rimas do rap que se tornaria símbolo das ideias de consciência negra no Brasil nasceram dali. “Eu tinha um repique de mão, era partideiro, improvisava meia hora. Eu fazia freestyle no samba”, contou mais tarde.
Pesquisador de música e professor da Universidade Federal de Pernambuco (Ufpe), Jeder Janotti Jr. aponta que, de fato, rap e samba têm aproximações: são manifestações musicais de tradição baseada na oralidade da população afrodescendente espalhada pelo mundo e são contribuições culturais marcadas pelo improviso e resistência.
“A música da diáspora negra tem ligações que, quando ficamos fechados nas casinhas das categorizações musicais, não percebemos. Acho que tentar manter tudo separado é uma visão muito purista”, comenta Janotti.
Embora haja uma tendência de colocar estes gêneros como distantes um do outro, Richard Santos (Big Richard), professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e também rapper, cita que os movimentos migratórios no país produziram e continuam produzindo culturas viajantes. No início do ano 2000, São Paulo, estado natal de Brown, tinha mais filhos de baianos do que filhos dos próprios paulistanos, conforme apontava um levantamento do Datafolha.
“O rap e a cultura hip hop são frutos do repente, de uma oralidade ancestral africana que a gente chama de canto falado. A região onde Brown cresceu, no bairro do Capão Redondo, é a região com maior população nordestina em São Paulo. A população negra faz conexões que, às vezes, parecem invisíveis, mas que lhes dão identidade no mundo. Muito do que falamos é desconhecido porque também são desconhecidos estes nossos trajetos. Mas conseguimos identificar essas correlações ainda que Mano Brown não tenha contato direto com a família, nem com a experiência do ritmo do interior do sertão da Bahia”, aponta Richard Santos. Feliciano Soares, o Friciano (Foto: Acervo familiar) Neto de vaqueiro e parteira
Na visita deste ano à terra da mãe, os familiares levaram Brown para uma diversidade de passeios para que ele pudesse conhecer melhor a história de seus antepassados, que começa no bairro ribeirinho do Alto do Cruzeiro, onde viveram o vaqueiro Teodoro e a parteira Lixandrina Soares, avós dele. “Ele fez questão de conhecer o nosso gueto. Aqui em casa, ficamos até tarde, até umas 3h da madrugada, batendo papo sobre a vida, política e principalmente família, porque a sede dele era saber dos nossos avós e tios, como eles eram, como viviam, já que ele não conheceu ninguém”, conta a prima Antonieta. “A gente levou Paulo [nome de batismo do rapper] numa ruma de lugar. Menina, esse homem caiu dentro do samba de roda. Na barragem, ele já foi todo dançando né, metendo um pagodão”, acrescenta Guel. Festa de São Roque
Do total de tios, os primos contam que o rapper só chegou a conhecer três: Pedro, Feliciano e Bernardete, todos já falecidos. Bernadete Soares, a Dona Chea, era conhecida pescadora de camarão de água doce e foi lendária porta-bandeira da Lavagem de São Roque, festa histórica muito esperada do calendário municipal, celebrada em agosto.
Diz-se que o festejo surgiu na cidade por volta de 1920, depois que Riachão foi atingida pela peste e fazendas iniciaram rezas para São Roque, protetor dos doentes. Na década seguinte, mulheres “que faziam vida” na antiga Rua do Fogo — assim chamada porque neste período era zona de prostituição — passaram a ter acesso à lavagem. A rua ficava justamente no Alto do Cruzeiro, bairro que chegou a ter para lá de oito bregas, todos mal falados nas bocas das mulheres casadas.
Antes excluídas da festa pela sociedade local, as meretrizes então criaram um dia festivo em homenagem ao santo, no qual desfilavam enfeitadas pelas ruas do centro da cidade ao lado da população menos abastada, como feirantes, matadores de bois, lavadeiras de roupas e outros. Essa entrada nas comemorações católicas foi um pretexto estratégico que as raparigas usaram para conquistar o direito ao espaço e ser parte da festa.
A história de Dona Chea — e de outras parentes de Brown à frente da lavagem — chegou a ser documentada num trabalho de doutorado da Ufba, feito por Lourdisnete Benevides. À ela, Chea contou que a primeira vez em que participou da lavagem foi em 1956, ano em que Seu Teodorinho, avô de Brown, morreu. Bernadete Soares, a Dona Chea (Imagem: Reprodução/Laura Ferreira) Diretora do documentário “Rua do Fogo — Memórias do Baixo Meretrício”, a jornalista jacuipense Laura Ferreira conta que, nos bastidores das gravações, Dona Chea relatou que os bregas da região ainda eram quentes na adolescência de Dona Ana e aconselhou a irmã a tentar uma vida melhor em São Paulo.
“Não era o nosso foco, mas nos intervalos perguntei sobre Mano Brown e ela contou que deu a maior força para Ana ir embora justamente porque os bregas do Alto do Cruzeiro estavam demais e a irmã já estava ficando mocinha, tinha medo de que ela entrasse na vida, se influenciasse”, recorda.
Churrasco de família
Para fazer uma imersão nestas histórias de família, Mano Brown pediu que se convidasse o máximo de Soares possível para um churrasco no sítio. Queria conhecer um a um. Cerca de 50 pessoas compareceram. Uma delas foi o aposentado Amarílio Soares, o Tio Lio, tido como um guardião da memória da cidade e responsável por contar ao rapper as origens da Festa de São Roque. “Cada Soares que ia chegando, ia interagindo. Quando eu cheguei, ele falou: ‘Ah, você que é o Tio Lio?’. Daí, bem mais tarde, já depois de muito conversar, ele levantou, olhou de um por um e disse: 'Quer dizer então que vocês são todos meus parentes? E eu pensando que eu era sozinho!’. Aí, pronto, todo mundo sorriu”, recorda Lio. Para o próximo encontro, a família da Bahia já deu até ideia: tem que ser festa de camisa, confeccionada com foto em homenagem à Dona Ana. Segundo familiares, o rapper até cogita voltar lá no fim deste ano.O primo Guel Soares recorda ainda de outro causo que fez o riso rolar solto naquela tarde, quando ofereceram à Brown uma pinha — também conhecida como fruta-do-conde. “O que é isso?”, teria perguntado o paulistano, levando o parente a rir do desconhecimento. “Ele engoliu até os caroços, acho que não conhecia, perguntou à prima da gente que mora com ele se podia comer”, galhofa Guel.
[[galeria]]
Leão do Sisal
Apaixonado por futebol e santista ferrenho, um dia antes da reunião familiar no sítio, Mano Brown tinha ido assistir à uma partida do Jacuipense, o time da cidade, contra o Doce Mel, de Ipiaú. Jogador do Jacuipense, Rafael Bastos contou na ocasião ao Globo Esporte que, ao ver Brown sentado na arquibancada de concreto da Arena Valfredão, foi como se tivessem lhe dado o combustível que faltava para a partida. “Deu um incentivo. Não só para mim, mas para a equipe”, relatou. O resultado do jogo, no entanto, deu empate...
A presença do rapper no pequeno estádio fez mudar o centro das atenções. A Torcida Organizada do Leão do Sisal (Tols) não se conteve, “quase que não tinha jogo”, brinca Guel Soares. Membro da Tols, Renato Júnior, 19, recorda que a surpresa foi grande em ver o cantor assistindo à partida. “Acho que ninguém sabia que ele ia aparecer lá, entende? O guerreiro apareceu do na-da! Ele passou pelo meio da galera, aí todo mundo notou, não teve jeito. Só se ouvia gente falando: “Ó, Mano Brown ali!”, narra.
No intervalo do jogo, a galera invadiu a área restrita da arquibancada, onde o músico estava com a família. Renato conta que escuta os Racionais desde ‘pivete’, não resistiu e foi junto. “A gente pediu para ele fazer o T, e ele ficou perguntando o que diacho era T — a letra da torcida — e ele fez na maior humildade”, conta. Na brincadeira, o grito de guerra da torcida ganhou até adaptação: "Uh, faz o T, deixa a Tols enlouquecer. Pula, sai do chão, Mano Brown é do Leão”. Mano Brown com a camisa do Jacuipense (Foto: Reprodução/Instagram) Assistindo ao jogo, o professor Roniere Mota, 32, desistiu do sonho da foto própria com o ídolo ao ver o tumulto na tribuna. Funcionário da escola do bairro do Alto do Cruzeiro e amigo de muitos parentes, ele deu outro jeito.
“Um dos meus alunos me ligou e disse: ‘Roni, Mano Brown está aqui na minha casa, tu quer tirar uma foto com ele?’ E eu: ‘Quero, lógico’. Fui na hora! Quando cheguei, ele estava dentro da casa conversando com umas tias, aí esperei o momento familiar dele. Quando ele saiu, veio em minha direção e cumprimentei. Tiramos umas 20 fotos até prestar”, detalha o professor, que encontrou o cantor já em seu último dia de estadia em Riachão.
Roni conta que Brown continuou a pé pelo bairro, entrando de casa em casa, conhecendo alguns familiares e revendo outros. “Ele foi conversando com as crianças, perguntando o quanto gostavam de estudar, brincando assim: ‘Rapaz, olhe lá, você não tem cara de que gosta de estudar. Tem que estudar, cara, tem que mudar isso aqui, essa realidade’”, lembra. (Imagem: Reprodução/Tols) Estreia no Carnaval de Salvador
A viagem à Bahia terminou em cima de um trio elétrico, no Circuito Barra-Ondina, com uma cena que entrou para a história do carnaval soteropolitano. A internet ‘quebrou’, digamos assim, com o vídeo do flagra da emoção do ambulante Diego Cleisson dos Santos, o Negro Drama, de 34 anos. O vendedor apenas passava pela área vendendo cervejas em seu isopor quando se deu conta de que Brown era a atração que subia no bloco Afropunk. A comoção dele foi tanta que levou as mãos ao rosto, abriu uma lata e chorou.
Jeder Janotti define aquele instante como um verdadeiro acontecimento. A legítima emoção do ambulante mostrou ao país a força do rap como mais uma música política da população periférica dentro do carnaval soteropolitano.
“Mano Brown é a figura de referência de uma geração, ele é ídolo do rap, merecidamente. Não me surpreende a presença do rap no carnaval porque a festa soteropolitana há muito tempo é transcultural, tem diversos gêneros musicais. O rap é uma música negra brasileira e, guardada as devidas proporções, acredito que foi uma chegada até tardia no carnaval. Faço um paralelo disso com a própria dificuldade do reconhecimento do papel dos blocos afro no carnaval soteropolitano. Um carnaval com Mano Brown não é uma coincidência, tem forte acionamento na música baiana”, sustenta o pesquisador.