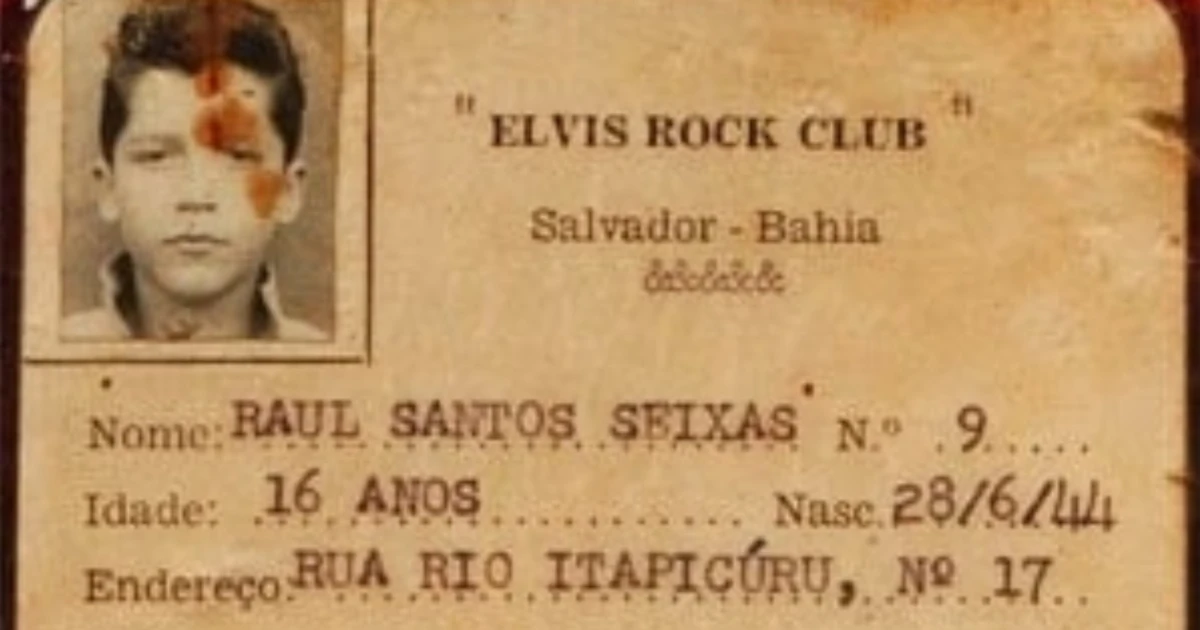Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Jones é parte fundamental da mitologia tricolor
-
Paulo Leandro
Publicado em 10 de agosto de 2022 às 05:00
- Atualizado há 2 anos

Lourinho, Alemão e Jones formam o trio de encantados necessários para a narrativa fundamental de uma mitologia do Bahia, se pudesse ser cantada em poemas atribuídos a Homero ou via origem dos deuses de Hesíodo.
O sumiço de Jones sangrou, não apenas pela finitude do nonagenário, mas principalmente pela ausência dos aedos, pois sem contarmos suas proezas, fica a sensação de morte duplicada, a física e a metafísica, a ontológica e a poética.
Vamos evitar a zanga de Zeus, uma vez sabermos o quanto seus raios podem fulminar quem o irrita por ignorar Mnemósine (a Memória), uma de suas milhares de namoradas, com quem gerou nove musas, uma por noite de trepada divinal.
Jones foi líder de torcida, levou sua negritude para a velha Fonte, a voz do povão a ecoar pelo cimento incompleto do estádio, porque Salvador funciona assim, damos valor à pândega e à alegria, das quais o Bahia é tudo de bom.
Jones foi cozinheiro, ou “conzinheiro”, separava os bifinhos no capricho, para garantir caloria aos tricolores: um intuitivo nutricionista inspirado pela Musa da arte culinária e a Graça das delícias do paladar.
Jones foi massagista, salvava jogadores dos excessos dos preparadores físicos, quando saber cuidar da criança era mais importante: relaxar a musculatura decidia títulos! Grosso não tinha vez.
“Quem jogou no velho gramado da Fonte sabe o quanto era pesado, esburacado. Para piorar, as banheiras do Bahia estavam sempre quebradas, não tinha como o atleta relaxar, exceto com massagens”, lembra Osni, jogador, treinador, artilheiro e campeão em 1984 (inédito no mundo).
Nem sempre se entendiam os semideuses: Jones tinha um babalorixá (pai de santo) em Lobato; Alemão fazia os trabalhos com uma ialorixá (mãe de santo) em Itapuã.
O resultado da disputa pelos poderes do panteão afro-baiano produzia hiperaxé porque os dois macumbeiros, cada qual em seu terreiro, arriavam separados seus ebós (oferendas aos orixás e voduns).
O Bahia ficava forte em dobro: assim explicam-se vitórias místicas, nos acréscimos, lances impossíveis, a bola parecia correr por ela mesma, ou conduzida por Sangô, Oxaguian e os Ibeji peraltas rumo ao gol.
Para completar o trio mitológico, Lourinho espetava uma fieira de bonecos nas cores dos adversários e descia para a pista em volta do campo desfilando com o suposto despacho (efeito psicológico).
Pelo sim, pelo não, a massa vibrava com aquela figura maluca de cabelão oxigenado, passeando pelo solo sagrado do estádio, perturbando visitantes ou o Vitória, tanto fazia.
Sou testemunha de quanto Lourinho tinha força (axé), quando ele arriou aquele bozozão no vestiário do Fluminense, time delicadinho: a farofa de dendê misturou-se à água dos chuveiros, melecando o uniforme limpinho dos cariocas.
Nesta semifinal do bi de 1988, meu aniversário, fui pautado para cobrir o bozó de Lourinho e o duelo dos técnicos, Sérgio Cosme, e Evaristo: Bahia 2x1, de virada, tinha gente até na marquise e dali pra frente não teve Internacional certo.
Vamos visitar o Reino de Oió e pedir a Olódùnmarè para virar em orixás os tricolores Jones, Alemão e Lourinho: cultuemos estes seres encantados com cantos e oferendas a fim de continuarem a fazer tudo pelo Bahia, agora no Orum.
Paulo Leandro é jornalista e professor Doutor em Cultura e Sociedade