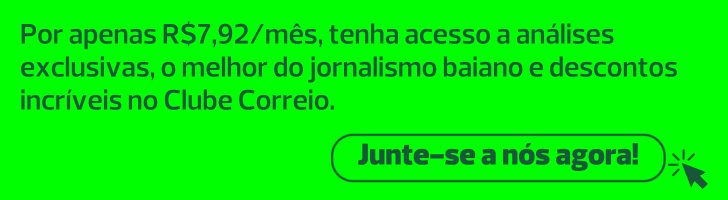Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nova lei pode obrigar pais a amarem os filhos?
O abandono afetivo não é ausência de gestos carinhosos, mas a omissão dos cuidados que estruturam a vida da criança
-
Flavia Azevedo
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 13:00

A Lei nº 15.240/2025, sancionada recentemente, despertou um debate previsível. Ao alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir o abandono afetivo como ilícito civil, ela reabriu perguntas que desafiam juristas, psicólogos e famílias há décadas. Por exemplo, até onde o Estado pode ir quando a violação de um direito parte da indisponibilidade emocional de terceiros? Como cobrar atos que derivam do afeto? De que maneira criar dispositivos de proteção sem que esses mesmos dispositivos vulnerabilizem ainda mais as crianças? Por fim, a pergunta que eu mesma me fiz ao ver a decisão: a nova lei quer obrigar pais a amarem os filhos? Veremos.
Pra entender melhor, fui pesquisar o que o Direito chama de abandono afetivo. Longe de ser um conceito vago ou romântico, descobri que ele nasceu da constatação de que há muitas crianças que crescem sob o mesmo teto de quem as gerou mas que, na prática, vivem sozinhas. São meninas e meninos que passam por escola, consultas, mudanças de cidade, crises de saúde ou conflitos familiares sem qualquer orientação, proteção ou interesse do adulto responsável. O abandono afetivo, portanto, não é ausência de gestos carinhosos nem de presentes caros, mas a omissão contínua dos cuidados que estruturam a vida psíquica e social da criança.
A nova lei tenta enfrentar esse fenômeno descrevendo, de forma bastante compreensível, o que o ECA agora entende como assistência afetiva. São três eixos: acompanhar escolhas educacionais, profissionais e culturais; oferecer solidariedade concreta em momentos de sofrimento e garantir presença física quando a criança solicita. Não se trata de critérios subjetivos, mas de práticas observáveis que, em resumo, significam uma coisa muito simples, que é cuidar dos filhos. Coisa para a qual o amor materno e paterno - em pessoas funcionais - conduz naturalmente. Já que não é razoável arbitrar sobre o que as pessoas sentem, a lei cobra atos que decorrem de sentimentos esperados na parentalidade.
“Mas tem mãe e pai que não amam mesmo”, você está pensando. Eu sei. Então, que se virem. O ponto é que esse cuidado continuado e cotidiano não é opcional no desenvolvimento de filhotes humanos. A presença adulta disponível, interessada e constante é o que permite que a criança organize a própria experiência no mundo. É na rotina que se aprende a interpretar conflitos, a modular emoções, a pedir ajuda, a negociar limites, a construir confiança. Quando um adulto se ausenta de maneira persistente, não é apenas o afeto que falta à criança. Falta a mediação, a referência, o contorno simbólico que sustenta o desenvolvimento. É essa estrutura, e não o sentimento, que o Direito tenta proteger. Sem a possibilidade de cobrar sentimentos, ele se refere ao amor materializado no gesto e na presença. Esta que é uma obrigação de quem é pai e mãe.
Crianças precisam de presença
O afeto é inapreensível. Não há tribunal capaz de comprovar amor e nenhum juiz poderá determiná-lo. O legislador sabe disso. O que ele faz é recuar do impossível e se fixar no mínimo indispensável. A lei não acredita que o amor se compra, se troca ou se produz por decreto. O que ela estabelece é que a ausência deliberada de cuidado, quando causa dano ao desenvolvimento, deixa de ser vista como tragédia privada e passa a ser reconhecida como violação concreta de um direito fundamental. Na teoria, funciona bem. Na prática, ainda não sabemos.
Há grandes desafios. O primeiro é probatório. Como distinguir a distância imposta por condições materiais como longas jornadas, trabalho informal e precariedade da omissão voluntária? Como diferenciar vínculos frágeis de vínculos abandonados? Como evitar que a lei seja instrumentalizada em disputas parentais? O risco existe e está claro. Mas a complexidade do tema não invalida a necessidade de um marco jurídico. Se o Direito esperasse consensos perfeitos, não haveria proteção pra ninguém.
O segundo desafio é simbólico. Ao reconhecer o abandono afetivo como ilícito, o Estado sinaliza que a dimensão relacional da parentalidade não é acessório, mas núcleo. Porém, ao fazê-lo, também precisa assumir que nenhuma sentença repara a ausência. Nenhuma indenização devolve as mediações perdidas, os rituais formadores, a sensação de ser visto. A lei não cura, apenas nomeia. A questão é que nomear, para muitas crianças e adolescentes, já é toda a justiça possível.
“Mas o Estado não tem nada a ver com a qualidade da minha relação com meus filhos”, é um pensamento comum. Tem sim. A parentalidade não pertence apenas à esfera privada, algo que cada família resolveria a seu modo sem que o Estado interferisse. Crianças não são propriedades de ninguém. São sujeitos e a Constituição já garantia isso. A nova lei apenas leva essa premissa às suas consequências. Se o cuidado é indispensável ao desenvolvimento, ele não pode ser facultativo. Em resumo, o direito da criança se sobrepõe às limitações, aos desejos e às incapacidades dos adultos que as colocaram no mundo. Se você faz uma pessoa, é responsável por ela. Ponto.
Portanto, não. A Lei 15.240/2025 não quer obrigar pais a amarem os filhos. Amor não é categoria jurídica. O que a lei exige é algo mais modesto e, ao mesmo tempo, mais material. Ela exige presença, responsabilidade, participação, atenção e disponibilidade. Exige que o adulto deixe de tratar seu afeto ou sua falta de afeto como destino alheio. Exige que assuma responsabilidades e que reconheça que a omissão também produz danos. É pouco perto do que toda criança merece. Mas, para muitas, pode ser o primeiro reconhecimento de que a sua falta de proteção não é natural, não é inevitável e, principalmente, não é culpa delas.
Flavia Azevedo é articulista do Correio, editora e mãe de Leo
Siga @flaviaazevedoalmeida








![[Edicase]A prática de atividade física é importante para a saúde das crianças (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/11/04/edicasea-pratica-de-atividade-fisica-e-importante-para-a-saude-das-criancas-imagem-lightfield-studios--shutterstock-gcq9m9ppju.jpg)
![[Edicase]O consumo de frutas ajuda a manter a hidratação das crianças (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock) por Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/28/edicaseo-consumo-de-frutas-ajuda-a-manter-a-hidratacao-das-criancas-imagem-tatevosian-yana--shutterstock-sfc7c9t.jpg)
![[Edicase]O aumento das temperaturas exige cuidado especial com a hidratação das crianças (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) por Imagem: Josep Suria | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/28/edicaseo-aumento-das-temperaturas-exige-cuidado-especial-com-a-hidratacao-das-criancas-imagem-josep-suria--shutterstock--sntaeokyoim.jpg)

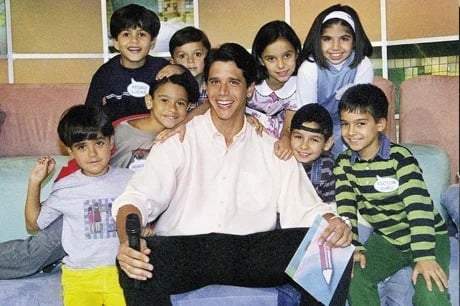
![[Edicase]“#SalveRosa” aborda os desafios da exposição digital de crianças e adolescentes (Imagem: Reprodução digital | ELO STUDIOS) por Imagem: Reprodução digital | ELO STUDIOS](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/21/edicase8220salverosa8221-aborda-os-desafios-da-exposicao-digital-de-criancas-e-adolescentes-imagem-reproducao-digital--elo-studios-28ipz6auavai.png)
![[Edicase]O cuidado com a alimentação é essencial para prevenir a obesidade em crianças (Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock) por Imagem: Tatevosian Yana | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/21/edicaseo-cuidado-com-a-alimentacao-e-essencial-para-prevenir-a-obesidade-em-criancas-imagem-tatevosian-yana--shutterstock-bxvx7d.jpg)
![[Edicase]O bullying na escola pode afetar a saúde física e mental das crianças (Imagem: fizkes | Shutterstock) por Imagem: fizkes | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/20/edicaseo-bullying-na-escola-pode-afetar-a-saude-fisica-e-mental-das-criancas-imagem-fizkes--shutterstock-ee138gsi4q.jpg)
![[Edicase]Cuidados básicos, como a vacinação, ajudam a proteger as crianças da gripe (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/15/edicasecuidados-basicos-como-a-vacinacao-ajudam-a-proteger-as-criancas-da-gripe-imagem-peopleimagescom-8211-yuri-a--shutterstock-g8dqghg.jpg)


![[Edicase]Atividades adaptadas podem tornar o Dia das Crianças mais inclusivo (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/10/edicaseatividades-adaptadas-podem-tornar-o-dia-das-criancas-mais-inclusivo-imagem-new-africa--shutterstock-ex0xjyrr.jpg)





![[Edicase]A prática de atividades ao ar livre ajuda a prevenir a miopia em crianças (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/08/edicasea-pratica-de-atividades-ao-ar-livre-ajuda-a-prevenir-a-miopia-em-criancas-imagem-ground-picture--shutterstock-qestfvoh1m.jpg)
![[Edicase]O contato com a luz natural e o movimento em espaços abertos são aliados da saúde ocular das crianças (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock) por Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/08/edicaseo-contato-com-a-luz-natural-e-o-movimento-em-espacos-abertos-sao-aliados-da-saude-ocular-das-criancas-imagem-dmytro-zinkevych--shutterstock-4hl4ur7dxqv.jpg)
![[Edicase]O carinho pelo animal de estimação pode ser motivado pelos pais das crianças (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/07/edicaseo-carinho-pelo-animal-de-estimacao-pode-ser-motivado-pelos-pais-das-criancasimagem-lightfield-studios--shutterstock-crztaui.jpg)
![[Edicase]A presença de um pet em casa estimula empatia, responsabilidade e afeto nas crianças (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/07/edicasea-presenca-de-um-pet-em-casa-estimula-empatia-responsabilidade-e-afeto-nas-criancas-imagem-lightfield-studios--shutterstock-jtwo3iyd.jpg)
![[Edicase]As crianças também devem escovar os dentes antes de dormir (Imagem: paulaphoto | Shutterstock) por Imagem: paulaphoto | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/06/edicaseas-criancas-tambem-devem-escovar-os-dentes-antes-de-dormir-imagem-paulaphoto--shutterstock-sa4n1chagb.jpg)


![[Edicase]Os livros são uma ótima opção de presente para as crianças (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/10/03/edicaseos-livros-sao-uma-otima-opcao-de-presente-para-as-criancas-imagem-evgeny-atamanenko--shutterstock--bbwluckb.jpg)
![[Edicase]O bullying prejudica a saúde mental e o desenvolvimento escolar das crianças (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/09/26/edicaseo-bullying-prejudica-a-saude-mental-e-o-desenvolvimento-escolar-das-criancas-imagem-prostock-studio--shutterstock--iicn63qa17m.jpg)
![[Edicase]As formas de socialização das crianças autistas devem ser respeitadas (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/09/23/edicaseas-formas-de-socializacao-das-criancas-autistas-devem-ser-respeitadas-imagem-monkey-business-images--shutterstock-d6k7pe559qs.jpg)
![[Edicase]A socialização também é importante para crianças autistas (Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock) por Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/09/23/edicasea-socializacao-tambem-e-importante-para-criancas-autistas-imagem-robert-kneschke--shutterstock-2mdc8hniqzn.jpg)








![[Edicase]A ansiedade e a depressão também podem afetar as crianças (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock) por Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/09/09/edicasea-ansiedade-e-a-depressao-tambem-podem-afetar-as-criancas-imagem-dragana-gordic--shutterstock-gy448avnbzq.jpg)






![[Edicase]Os livros ajudam as crianças a compreenderem suas emoções e a encontrarem maneiras de se expressar (Imagem: AYO Production | Shutterstock) por Imagem: AYO Production | Shutterstock](https://midias.correio24horas.com.br/2025/09/03/edicaseos-livros-ajudam-as-criancas-a-compreenderem-suas-emocoes-e-a-encontrarem-maneiras-de-se-expressar-imagem-ayo-production--shutterstock-7mv6lk6is07.jpg)